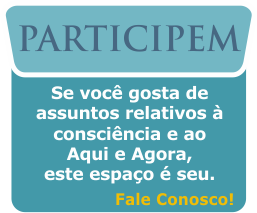IMIGRANTE
“O mulato maranhense dizia as saudades do seu coração, tudo o que mais amava com as íntimas energias do seu ser humano. E cantava num tom que era um longo soluço:
Adeus, campo, e adeus mato,
Adeus casa onde morei!
Já que é forçoso partir,
Algum dia te verei.”
(CANAÃ) Graça Aranha.
A princípio – entre o despertar e a vigília –, eu bem podia estar acordando em Ipatinga.
Era uma só nesga de pouca luz filtrada pelo vidro quebrado e empoeirado, mas o ruído de um trem lá fora – inconfundível, martelado –, trouxe – me logo à realidade do quarto infecto. Um inseto volteou sobre minha cabeça, quase formando uma aura e foi estatelar-se na parede mais próxima.
Suzana surgiu do banheiro, difusa à minha perspectiva sonolenta, não sem antes apoiar-se com as duas mãos nos batentes da porta. Seu rosto estava tão pálido que pensei que ela fosse desmaiar, mas não: veio em minha direção – eu deitado ainda – e deixou-se cair ao meu lado. Os olhos dela estavam opacos e, apesar disso, lindos naquele azul de água. Sua tez era tão branca,que parecia iluminar-se.
— Caramba, como você está pálida! – exclamei.
Ela, simplesmente, deitou-se de barriga para cima, arrancou a blusa por sobre a cabeça, deixando à mostra os seios pequenos. Era também assim em Ipatinga.
— Como a gente conseguiu? – ela perguntou.
— O quê?
— Como a gente conseguiu? Todo mundo foi preso.
— Todo mundo, não.
— Uma porrada!
— Sorte, uai!
Ela olhou em torno.
— Esse quarto… Não parece sorte. – Concluiu.
A porta estalou, de repente, e eu me voltei.
— É o vento – eu disse.
— Ninguém vai ajudar a gente…
— Poderão vir nos prender.
— Não era preciso existir fronteiras – filosofou ela. Suzana sempre filosofava na cama,em Ipatinga.
— Não devia existir.
Levantei-me e fui até à mesa que ficava em um canto e cuja sujeira parecia misturar-se àquela da parede. Procurei o resto de alguma coisa na caneca de alumínio.
— Quando vem o homem? – Perguntou Suzana.
— O coiote?
— É, ele.
— Logo de manhãzinha. Vamos pelo deserto. Ele vai nos ajudar.
— É garantido? – Ela quis saber.
— Não sei o que pode ser garantido – respondi. – Ele garante, mas não sei quanto vale a palavra dele. Vamos por uma rota maior, de doze horas. Ele disse que é mais seguro.
Indiquei a ela a caneca, oferecendo-lhe o que bebia. Suzana fez uma careta.
— Coiote, coiote! Que merda! – Desabafou ela.
— Que foda! – Completei. Suzana sempre me dava forças para
praguejar. – Nome feio, coiote. Parece… traição.
— Agenciadores de imigrantes ilegais, é o nome deles – informei. – São perigosos.
Estupram e tudo o mais. Temos que ter cuidado.
Suzana alteou a voz.
— Porra, Tonho, não há como ter cuidado. É jogar com a sorte. Só espero que ele leve a gente mesmo.
— É, alguns já foram enganados.
— Porra, você é bonzinho! Morreu gente adoidado!
Fiquei olhando para Suzana e parecia que ela não me podia ver. “Que dor de saudade!”, pensei.
— Vem cá – ela acenou para mim.
Ao aproximar-me dela – ao sentir-lhe o corpo macio colado ao meu, os seios pequenos tocando meu peito – pensei o quanto era estranho estarmos ali, em um país estrangeiro que só nos
queria devorar e, no entanto, prontos para o sexo. E como a perspectiva de fazer amor era maravilhosa, apesar do quarto fétido e do pouco espaço. Eu não podia deixar de pensar que, de
certa forma, éramos especiais, considerando-se quantos haviam tentado atravessar a fronteira do Estados Unidos e tinham sido presos ou mortos, crianças e mulheres estupradas.
— Oh, Deus, isso é bom! – gritei. Senti que me vinha o orgasmo, uma de minhas mãos apoiadas na cama e a outra segurando meu pênis.
Permaneci ainda sobre ela, como se fosse a minha última esperança de entender o que eu estava fazendo ali, fora do raio de visão de minha mãe.
Bateram à porta. Três toques tão fortes, que me transportaram a badaladas de um sino em uma das igrejas das Minas Gerais.
O homem, fora, tinha olhos turvos como os de um lobo e sua estatura pequena deu-me a impressão de que, em verdade, não existia, ali, à soleira de minha vida.
— Brazuca… – ele murmurou e era como se não soubesse o que estava dizendo; parecia repetir o que ouvira alhures, não tinha voz definida ou sotaque.
A palavra me doeu dentro.
Voltei-me, peguei de uma sacola e entreguei a ele o dinheiro. Conferiu, cuidadoso.
“Coiote!”, pensei com raiva.
Ele me acenou com a cabeça, simplesmente, para que o seguisse. Eu o fiz, sem nenhuma reação, sem palavra, sabendo o que aconteceria. Provavelmente, teria sido muito mais fácil entregar-me à polícia, mas eu já não queria aquele dinheiro de qualquer forma, minha liberdade não existiria também no novo país, só queria voltar para Suzana e a seus braços e ao raio de visão de minha mãe, apesar dela ter partido há muito tempo.
LIN DE VARGA